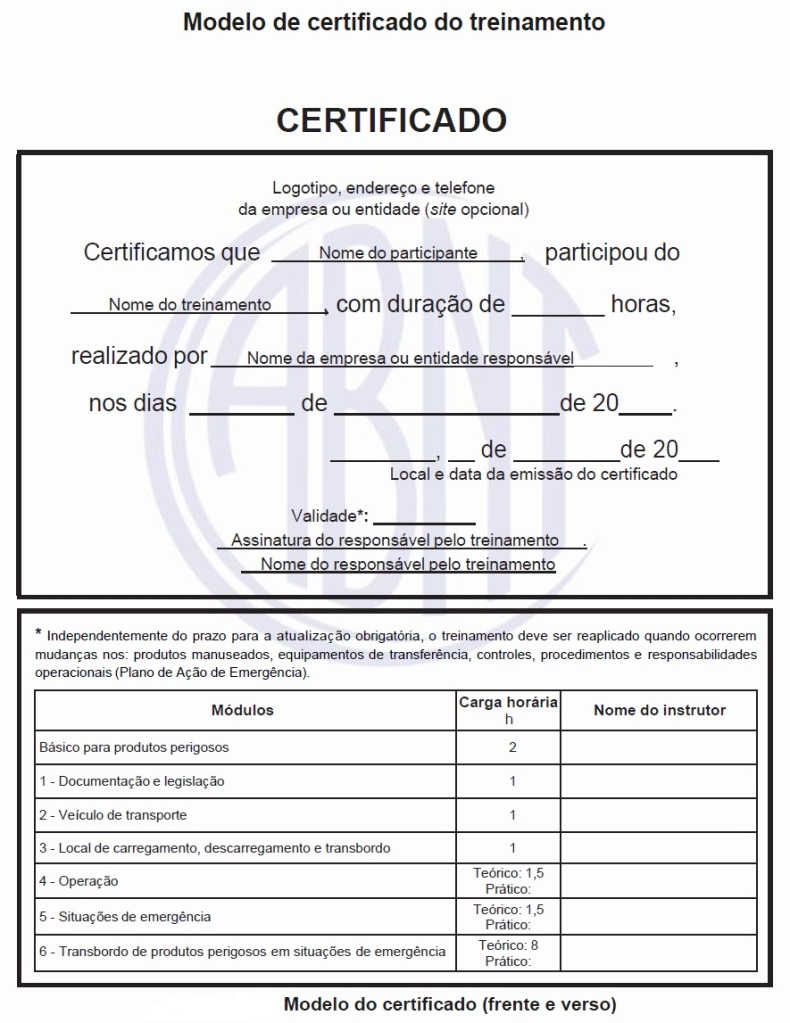Toda carga de resíduos perigosos deve estar devidamente acompanhada de uma ficha de emergência até a sua disposição final, reciclagem, reprocessamento, eliminação por incineração, coprocessamento ou outro método de disposição. As embalagens em que estarão contidos os produtos perigosos deverão obedecer às disposições do Ministério dos Transportes, contendo rótulos de segurança e rótulos de risco, conforme previsão na NBR 7500.
Por fim, quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos perigosos, o gerador do resíduo deve emitir um documento de controle de resíduo com as seguintes informações: sobre o resíduo: nome apropriado para embarque,; estado conforme físico (sólido, pó, líquido, gasoso, lodo ou pastoso); classificação; quantidade; tipo de acondicionamento; nº da ONU; nº de risco; grupo de embalagem; dados sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo: atividade; razão social; endereço; telefone; e nome (s) da (s) pessoas (s), com respectivo (s) número (s) de telefone (s), a ser (em) contatada (s) em caso de emergência.
No caso dos resíduos médicos ou clínicos resultantes de tratamento médico de pessoas ou animais, ou de pesquisas biológicas que contenham substâncias infectantes da categoria A, conforme previsto na legislação vigente, devem ser alocados no número ONU 2814, no número ONU 2900 ou no número ONU 3549, conforme apropriado. Os resíduos médicos sólidos contendo substâncias infectantes da categoria A, gerados a partir do tratamento médico de humanos ou do tratamento veterinário de animais podem ser alocados no número ONU 3549.
O número ONU 3549 não pode ser utilizado para alocar resíduos líquidos ou de pesquisas biológicas, devendo estes resíduos serem alocados no número ONU 2814 ou no número ONU 2900, conforme apropriado. Os resíduos médicos ou clínicos que contenham substâncias infectantes da categoria B, conforme previsto na legislação vigente, devem ser alocados no número ONU 3291.
Para classificar os resíduos médicos ou clínicos (resíduos de serviços de saúde) de maneira apropriada, deve-se seguir as instruções contidas no fluxograma apresentado na norma. Os resíduos médicos ou clínicos que estejam sob suspeita razoável de possuir uma baixa probabilidade de conter substâncias infectantes devem ser alocados no número ONU 3291.
Para fins de alocação, podem ser utilizados como referência os catálogos de resíduos de âmbito internacional, regional ou nacional. Os resíduos médicos ou clínicos descontaminados que tenham contido anteriormente substâncias infectantes e que tenham passado por processos térmicos ou químicos de desinfecção e/ou esterilização para ficarem inertes do ponto de vista patogênico não estão sujeitos à legislação vigente, a menos que atendam aos critérios para a sua inclusão em outra classe de risco.
Para a atividade de transporte de resíduos de serviços de saúde (médicos ou clínicos), regularmente instituída pelo poder público local (federal, estadual ou municipal), no âmbito dos serviços de limpeza urbana, as empresas transportadoras responsáveis pela coleta e transporte desses produtos devem providenciar a documentação exigida na norma, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e de emergência estabelecidos na NBR 9735, assim como a correta sinalização dos veículos, conforme a NBR 7500, sem prejuízo das demais exigências estabelecidas pelas autoridades competentes.
A NBR 13221 de 09/2023 – Transporte terrestre de produtos perigosos — Resíduos estabelece os requisitos para o transporte terrestre de resíduos classificados como perigosos, conforme a legislação vigente, incluindo os resíduos que possam ser reaproveitados, reciclados e/ou reprocessados, e os resíduos provenientes de acidentes, de modo a minimizar os danos ao meio ambiente e a proteger a saúde. Esta norma não se aplica ao transporte aéreo, hidroviário ou marítimo, nem ao transporte de resíduos na área interna do gerador. Também não se aplica ao transporte de resíduos de materiais radioativos e explosivos.
O transporte de resíduos classificados como perigosos deve ser feito por meio de veículo ou equipamento de transporte adequado, de acordo com as regulamentações pertinentes. O veículo ou equipamento de transporte a granel deve ser estanque, sempre que utilizado com contentor para granéis (BK).
Os resíduos classificados como perigosos devem ser transportados em veículo onde haja segregação entre a carga transportada e o pessoal envolvido no transporte. O estado de conservação do veículo ou do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não haja vazamento ou derramamento do resíduo transportado.
Os resíduos classificados como perigosos devem estar acondicionados em embalagens adequadas e identificadas como previsto na legislação vigente e, durante o transporte, devem estar protegidos de intempéries, assim como devem estar devidamente acondicionados (amarrados, escorados, etc.) no veículo ou no equipamento de transporte, para evitar o seu deslocamento ou a sua queda. As embalagens de resíduos classificados como perigosos não podem apresentar, durante o transporte, qualquer sinal de resíduo perigoso aderente à parte externa.
As embalagens com resíduos classificados como perigosos que estejam danificadas, defeituosas, com vazamentos ou apresentando não conformidades podem ser transportadas nas embalagens de resgate ou em embalagens de tamanho maior, de tipo e nível de desempenho apropriados, devendo, nesses casos, ser adotadas providências para evitar o movimento excessivo das embalagens danificadas ou com vazamento dentro dessas embalagens de resgate ou de tamanho maior. Quando as embalagens contiverem líquidos, deve-se acrescentar quantidade suficiente de material absorvente inerte para eliminar a presença de líquido livre.
Os resíduos classificados como perigosos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou objetos destinados ao uso e/ou ao consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins. O transporte de resíduos classificados como perigosos também deve atender à legislação ambiental específica (federal, estadual ou municipal), bem como deve ser acompanhado de documento de transporte do resíduo ou de documento previsto pelo órgão competente.
Os resíduos classificados como perigosos pela legislação vigente, gerados em acidentes durante o transporte podem ser removidos do local do acidente até o local adequado sem o documento indicado na norma e sem as embalagens indicadas na norma, devido à situação de emergência, podendo prosseguir com a documentação de transporte original da carga. Os resíduos classificados como perigosos devem ser transportados de acordo com as exigências aplicáveis à classe ou subclasse de risco, considerando os seus riscos e os critérios de classificação, que estão estabelecidos na legislação vigente.
Porém, se o resíduo não se enquadrar em qualquer dos critérios estabelecidos para as classes ou subclasses de risco conforme estabelecidos na legislação vigente, mas se for um resíduo abrangido pela Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Disposição Adequada ou ainda se for classificado como resíduo perigoso – Classe I pela NBR 10004, ele pode, a critério do gerador, ser transportado como pertencente à Classe 9, sob o número ONU 3077 quando for sólido ou sob o número ONU 3082 quando for líquido. A partir do momento que um resíduo abrangido pela Convenção da Basileia ou um resíduo perigoso – Classe I previsto na NBR 10004 é classificado pelo gerador como resíduo perigoso para o transporte na Classe 9, todas as exigências estabelecidas na legislação vigente passam a ser exigidas em seu transporte.
Os resíduos de misturas de sólidos que não são classificados como perigosos para o transporte e os líquidos ou sólidos classificados como resíduos perigosos e que apresentem risco para o meio ambiente devem ser alocados ao número ONU 3077 e podem ser transportados sob esta designação desde que, no momento do enchimento ou do fechamento da embalagem, do veículo ou do equipamento de transporte, não seja observado qualquer líquido livre. Caso haja líquido livre no momento do enchimento ou do fechamento da embalagem, do veículo ou do equipamento de transporte, a mistura deve ser classificada como número ONU 3082.
Salvo as exceções previstas na legislação vigente, as embalagens (incluindo contentores intermediários para granéis (IBC) e embalagens grandes) vazias e não limpas, transportadas para fins de recondicionamento, reparo, inspeção periódica, refabricação, reutilização, descarte ou destinação/disposição final e que tenham sido esvaziadas de modo que apenas resíduos dos produtos perigosos aderidos às partes internas das embalagens estejam presentes, devem ser transportadas sob o número ONU 3509. Para enquadrar o resíduo, ver o fluxograma apresentado na figura abaixo.

Os resíduos classificados como perigosos devem ser transportados de acordo com os critérios de compatibilidade, conforme NBR 14619. O gerador do resíduo classificado como perigoso deve emitir um documento de transporte com as seguintes informações, conforme estabelecido na legislação vigente: sobre o resíduo: número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU”; nome apropriado para embarque; palavra “RESÍDUO” precedendo o nome apropriado para embarque de resíduos de produtos perigosos (que não pertençam à Classe 7), a não ser que ela já faça parte do nome apropriado para embarque; número da classe ou subclasse de risco principal; quando aplicável, número (s) da (s) classe (s) ou subclasse (s) de risco (s) subsidiário (s); quando aplicável, grupo de embalagem correspondente ao resíduo classificado como perigoso, podendo ser precedido das letras “GE” (por exemplo GE II); quantidade total (em volume ou massa, conforme apropriado) do resíduo classificado como perigoso.
As informações exigidas para a descrição dos resíduos classificados como perigosos no documento de transporte devem ser apresentadas, sem qualquer outra informação adicional interposta, na sequência indicada na legislação vigente. Sobre o gerador ou expedidor, receptor ou destinatário e o transportador do resíduo classificado como perigoso: ramo de atividade (indústria, comércio, prestador de serviço, laboratório, universidade, etc.); razão social; CNPJ; endereço; telefone; e-mail; número (s) de telefone (s) para acionamento em caso de emergência; número de controle do documento de transporte e a data em que foi emitido ou entregue ao transportador.
Os veículos e equipamentos de transporte contendo resíduo classificado como perigoso devem circular acompanhados do documento de transporte do resíduo até a destinação/disposição final. A ficha de emergência (ver NBR 7503), destinada a prestar informações de segurança do resíduo classificado como perigoso em caso de emergência ou acidente durante o transporte terrestre, pode acompanhar o documento de transporte deste resíduo.
Os resíduos classificados como perigosos para transporte terrestre e as suas embalagens devem estar de acordo com o disposto na legislação vigente. As embalagens devem estar identificadas conforme previsto na NBR 7500 e na legislação vigente.
A inclusão da palavra “RESÍDUO” precedendo o nome apropriado para embarque (exceto para resíduos da classe 7 – material radioativo) somente é obrigatória no documento descrito na norma, sendo opcional na embalagem do resíduo classificado como perigoso e na ficha de emergência, caso esta venha a acompanhar o transporte.
No caso do transporte de diversos resíduos classificados como perigosos acondicionados na mesma embalagem externa, esta deve ser marcada conforme exigido para cada resíduo classificado como perigoso, conforme previsto na NBR 7500 e na legislação vigente. O resíduo utilizado ou armazenado no local de trabalho deve ser classificado e rotulado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos na NBR 16725.
As informações pertinentes à rotulagem preventiva para fins de manuseio e armazenamento, como dados do gerador do resíduo, comunicação dos perigos para o usuário, instruções de uso, nome do químico responsável, entre outras, devem atender ao disposto nas legislações e nas normas técnicas vigentes.
Filed under: acidentes de trânsito, acidentes no trabalho, amostragem, degradação ambiental, gestão ambiental, gestão de fornecedores, impactos ambientais, meio ambiente, normalização, passivos ambientais, poluição atmosférica, produtos químicos, reciclagem de materiais | Leave a comment »